1.
Estou correndo sobre as falésias em um dia de mar calmo, pontuado por algas gigantes que boiam na superfície luminosa, uma floresta subaquática dizimada pelo aquecimento global. Tento não pensar muito nisso; acidez do oceano, duas baleias que recentemente apareceram mortas na praia. O verniz é de paraíso. Se eu não cutucar demais, está tudo bem.
Nesse dia, deixei a Apple Music decidir minha trilha sonora baseado no tanto que ela já sabe sobre mim. Os anos oitenta e noventa se alternam em hits de acender isqueiro e balançar o braço num estádio lotado (relíquias de outra era). Essa coisa de corrida é nova para mim, então frequentemente tenho que olhar o relógio para checar meus batimentos cardíacos – sigo um treino baseado em bpm – e para cuidar o tempo indicado pela minha planilha semanal. De repente, minha rotininha de exercício e gameficação da vida sofre um abalo.
Os fones começam a tocar “What it takes”, do Aerosmith.
Não escuto essa música há décadas.
Preciso dizer que eventualmente costumo ouvir canções da adolescência. É algo que me acompanha. No início dos anos 2000, uma mistura de nostalgia latente e consumo irônico me jogou pros hits eurodance de apenas alguns anos antes, e coisas como “Two princes” (Spin Doctors) e “One headlight” (Wallflowers) eram capazes de me despertar fortes emoções. O que eu procurava? O que procuramos ao resgatar esses sons do passado?
O problema em ouvir à exaustão certas canções ligadas a uma fatia da nossa vida é que essa fatia se expande até se desfazer; no fim das contas, tudo acaba boiando em um caldo aguado de saudosismo, perdendo o sentido que tinha. Além disso, vivendo nos Estados Unidos, é possível que eu entre em uma farmácia e de repente ouça a voz de Gwen Stefani cantando versos que marcaram meus 15 anos. A banalidade cruel da cena mata qualquer chance de aquilo se tornar um momento sublime. E claro que pensar no atual rosto de Stefani, tão esculpido por cirurgias plásticas a ponto de eu começar a questionar o próprio conceito do “eu”, não ajuda mesmo em nada.
Por algum motivo, “What it takes” escapou do meu radar por décadas (nunca gostei muito da música, talvez seja isso). Seu poder de máquina do tempo, justamente por isso, permaneceu inalterado. Ali, na beira do oceano Pacífico, sinto uma vontade imediata de resgatar uma parte da minha adolescência em um próximo romance. Por quanto tempo mais eu vou me lembrar da sensação de ter 16 anos, que vem tão forte agora a cada gemido do Steve Tyler? “Preciso escrever, antes que tudo se perca”, fico repetindo a mim mesma até que a música desapareça.
2.
Uma amiga, depois de ler o Diorama, me disse que eu tenho uma excelente memória. Eu acho minha memória bem ruim.O que eu tenho é imaginação. Além disso, não faço registro de quase nada. Nunca tive um diário. Para mim, escrever não costuma ser um impulso incontrolável, mas uma espécie de coceirinha no fundo do cérebro que eu posso facilmente ignorar.
Talvez eu evite os registros cotidianos porque eles parecem carregar dois tempos. O primeiro é o presente, o tempo da anotação, que tem uma trivialidade inofensiva, quase ingênua. O segundo é a projeção de mim mesma olhando praquele caderno no futuro, melancólica e perplexa, tentando juntar os caquinhos do passado. Não consigo lidar com essa imagem.
Deixar as coisas irem ainda parece melhor.
3.
Vivemos em uma época em que o presente significa tão pouco. O aqui e o agora não valem nada. Projetamos um futuro. Daqui a três dias, daqui a dois meses. Esperança: não à toa, há a palavra “espera” aí dentro.
4.
Fazemos alguma coisa legal e então registramos essa coisa para postarmos nas redes sociais, ou seja, o momento presente já se contamina com o depois, quando colheremos likes, comentários ou apenas frustração. Eu e a Melissa parecemos duas senhorinhas rabugentas ao discutirmos esse tipo de coisa, e a última vez foi dentro de uma imensa banheira de madeira que comporta oito ou dez pessoas, um dos nossos programas favoritos de Mendocino, quase uma câmara de deprivação sensorial feita de sequoias que custa barato para moradores entre segunda e quinta-feira.
Nunca há oito ou dez pessoas. Às vezes somos só nós duas.
Discutimos as possibilidades de fundarmos um movimento chamado “agorismo”. Queremos tirar o melhor do agora. Mas é possível mesmo ter uma percepção tão pura do tempo? Não. Dois dias depois, M. e S., os proprietários da casa onde moramos, me chamam para dizer que decidiram se mudar em novembro para uma casa de repouso. Há meses S. foi diagnosticada com um tipo de demência chamada Corpos de Lewy, e desde então M. entrou em uma espiral de emoções extremas e medidas de ordem prática, com as quais temos tentado ajudar o máximo possível (moramos na mesma propriedade, somos uma espécie de família).
Quando M. conta da casa de repouso, a decisão abrupta me pega de surpresa. Estou sentada no mesmo sofá que sentei da primeira vez que estive aqui, em 2016, momento em que M. e S. eram apenas uma fotografia no site do Airbnb, os anfitriões de uma casa que parecia extremamente acolhedora e que decidi alugar quando estava escrevendo O Clube dos Jardineiros de Fumaça. Outros dias vão se sobrepondo a esse: jantares, as noites que conhecemos os amigos deles, a sobrinha de M., as discussões com S. sobre Trump e Bolsonaro, o “sistema” que M. tinha desenvolvido para fumar pontas de béque (um treco comprido que parecia um mata-moscas com uma pinça na extremidade). Junto de toda essa lufada de memórias velozes, vem a projeção do futuro: será que essa a última vez que vou estar sentada nesse sofá com eles? Quanto tempo até S. esquecer quem eu sou? Quanto tempo até o declínio cognitivo apagar M. da sua cabeça?
5.
Três dias depois, recebemos um e-mail de M. Ele conta que mudaram de ideia. Vão ficar.
6.
Uns meses atrás, fomos ao condado de Siskiyou e descobrimos sem querer que estávamos perto da nascente do rio Sacramento, o maior rio da Califórnia. Sempre que eu passo pelo rio Sacramento, e passamos muitas vezes por ele ao longo dessa viagem, eu me lembro de Joan Didion e isso me traz uma coisa boa. A nascente do rio Sacramento estava cheio de jovens hippies com vans caindo aos pedaços, enchendo galões de água com a voracidade de quem acredita no sagrado, que aquilo vai mudar suas vidas, que eles podem ter a coisa mais pura nas mãos antes que aquela água passe por um monte de represas e vá então irrigar os tomateiros e as amendoeiras do Vale Central da Califórnia. Não é algo tão bonito assim, uma nascente, um filete de água escorrendo de uma pedra, e é difícil imaginar que o pequeno pode se tornar tão imenso em alguns quilômetros. Mas há uma placa ali, que de certa forma ressignifica o que estou vendo, porque ela me diz que aquela água que verte bem na minha frente tem sua origem na neve que cai no monte Shasta, a 2.500 metros de altura. Mas isso não é tudo; segundo análises, a água que estou vendo diante de mim caiu em forma de neve no monte Shasta há mais de cinquenta anos.
Caiu em forma de neve há mais de cinquenta anos.
Encosto a palma da minha mão nela.
A Companhia das Letras publicou uma playlist do Diorama, feita por mim com todo amor e carinho. Aliás, já comprou teu livro? :)






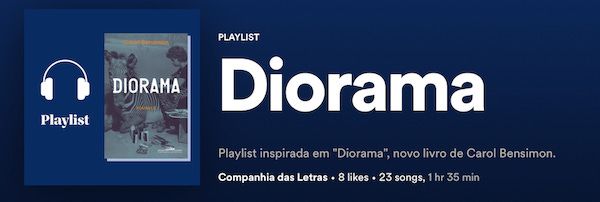
agorismo against algoritmo!
Adorei! E pensei que talvez as nossas memórias sejam parte do nosso agora.
Assim como os relatos revelam um agora que é memória.
Só pra dizer que navegar nas tuas reflexões me faz tão bem.